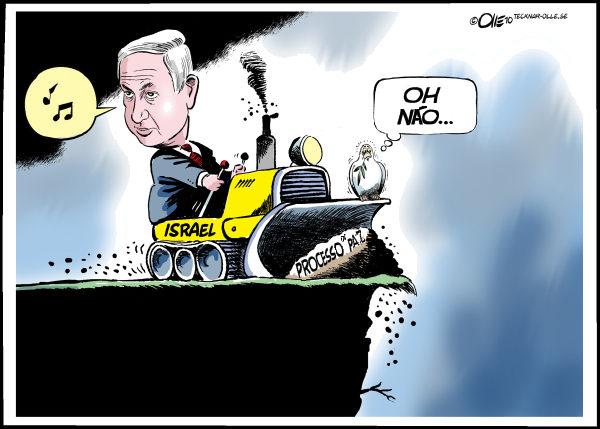Desde que no final do mês de Setembro foram anunciadas as novas medidas de austeridade a incluir no Orçamento Geral do Estado para 2011, dentre as mais destacadas das quais se conta o corte de 5% na massa salarial da Função Pública e o aumento do IVA de 21% para 23%, apresentadas como indispensáveis para reduzir a despesa pública e o défice público, que ficou clara a real intenção do governo: contribuir para o aumento dos lucros das empresas.

Apreciado numa perspectiva puramente macroeconómica, o OGE, além dos seguros efeitos recessivos na economia nacional – importa não esquecer que a uma redução do poder de compra das famílias (seja por via do agravamento da carga fiscal directa ou indirecta, seja pela redução dos salários) se fará rapidamente sentir numa economia que há muito apresenta evidentes sinais de fragilidade – não corresponde às intenções de equilíbrio orçamental anunciadas, pois as medidas propostas nunca poderão apresentar os resultados que os seus defensores lhes atribuem porque assentam em pressupostos manifestamente errados.
Primeiro, porque no caso em que a redução dos salários inclui o Sector Empresarial do Estado, os 5% de redução não podem nunca ser apresentados como redução da despesa pública pois aqueles salários não representam um encargo directo do OGE. Assim, os 150 milhões de euros de poupança anunciados pelo ministro das Finanças serão contabilizados nas contas daquelas empresas e não nas do OGE, traduzindo-se em acréscimo dos lucros (ou redução dos prejuízos), mas nunca em redução da despesa pública.
Segundo, porque uma redução dos salários acarretará uma redução da receita cobrada em IRS (qualquer coisa como 30 milhões de euros, caso se considere uma taxa média de incidência do IRS de 20% sobre os anunciados 150 milhões de euros) e o consequente agravamento do défice.
Apreciado numa perspectiva social, dificilmente alguém poderá concordar com um OGE que, não respondendo à necessidade de equilíbrio orçamental, agrava ainda mais a já desajustada política de redistribuição de rendimentos. A redução das contrapartidas sociais num período em que se atravessa uma das maiores crises de emprego, em que as perspectivas de futuro para os desempregados seniores (maiores de 45 anos) e para os jovens (na procura do primeiro emprego ou na mera reentrada no mercado de trabalho) são as piores das últimas décadas, para não falar na redução no abono de família (medida que além socialmente injusta em nada favorece a natalidade) e na acentuação da tendência histórica para o aumento da carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho dependente.
E aqui retornamos à famigerada decisão de redução dos salários na Função Pública e nas Empresas do Sector Empresarial do Estado entre as quais se contam empresas que actuam em mercados concorrenciais e normalmente geradoras de lucros.
Quantos daqueles trabalhadores, cansados de ano após ano ouvirem administradores e directores louvarem a elevada qualidade do quadro de pessoal e a extrema importância do mesmo para a imagem e os resultados das empresas, continuam a defrontar-se com as mais variadas ineficiências de equipamentos e instalações e a serem regularmente submergidos na voragem dos objectivos e dos resultados, se confrontam agora com a absurda decisão de virem a servir de exemplo para que se estenda ao conjunto dos trabalhadores do Sector Privado a há muito apregoada e peregrina ideia que da redução dos salários resultará a melhoria da produtividade nacional.
Assim, e porque a atestar por exemplos anteriores, a anunciada e muito defendida participação maciça dos trabalhadores na Greve Nacional marcada para o dia 24 de Novembro deverá conhecer o resultado habitualmente associado a este tipo de manifestações, ou seja: a perca de um dia de remuneração para os grevistas e a redução das despesas para os accionistas das empresas; enquanto as direcções sindicais parecem falhas de ideias concretas para o aprofundamento da luta, atrevo-me a deixar duas humildes propostas.
Que o previsível insucesso prático da Greve Geral seja respondido com o lançamento de formas de luta mais criativas e, quiçá, bem mais eficazes, como seja o caso de uma Greve de Zelo. Conhecidas que são as anacrónicas regras de funcionamento fácil será transformar uma forma de luta pacífica, como esta, na mais devastadora das confusões.
Caso a primeira seja entendida como “sabotagem económica” pelos dirigentes sindicais (ou, mais prosaicamente, apresentada como impraticável pelas inevitáveis dificuldades na adesão) restará ainda o recurso àquela que poderá ser a mais terrível das armas: o ridículo.
Neste caso a proposta é de que, de moto próprio, os milhares de trabalhadores das empresas do Sector Empresarial do Estado assumam de forma plena, clara e sem subterfúgios o seu reconquistado estatuto de Funcionários Públicos e, em conformidade, passem a adoptar os comportamentos adequados, nomeadamente através do zeloso cumprimento de horários, a simplificação no trajar (a crise a isso mesmo obriga) da utilização das instalações das empresas para a realização das indispensáveis refeições, previamente trazidas de casa, e doutras formas de protesto que seguramente a fértil imaginação nacional não deixará de originar.
Esta opção, mesmo como recurso último e em resultado de uma qualquer imobilidade sindical, poderá ser a mais eficaz.
Basta querermos!